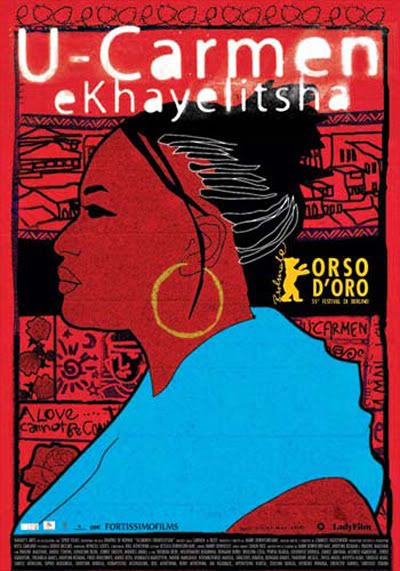Egito | Henry Barakat | 1961 | Drama | IMDB
Árabe | Legenda: Português/Inglês/Francês
2h 33min | XivD 624x464 | MPEG 1/2 L3 128 kb/s | 25.000 fps
Árabe | Legenda: Português/Inglês/Francês
2h 33min | XivD 624x464 | MPEG 1/2 L3 128 kb/s | 25.000 fps
1,78 GB
Fi Baitina Rajul / Um estranho em minha casa
Um drama político sobre a resistência à dominação britânica do Egito, que terminou com o exílio do rei-títere Farouk em 1954 e a ascenção ao poder de Gamal Abdel Nasser. O filme começa com o assassinato de Primeiro-Ministro pelo jovem revolucionário Ahmed Hamdi. Em sua fuga da polícia, Hamdi refugia-se na casa de uma família apolítica de classe-média, que acaba assumindo o risco de esconder um perigoso fugitivo da justiça. Baseado em uma novela de Ihsan Abdel Qoddous, o filme é um retrato fiel desse turbulento período, no início da década de 1950.
Crítica: Um estranho em minha casa
O portão de uma casa habitada por uma família, imagem que indica a entrada e o início de um caminho que tem como seu ponto de chegada a ambiência serena e afetuosa de um lar, é o primeiro signo que nos é apresentado por Um Estranho em Minha Casa. Em cima dessa imagem/signo vemos os créditos iniciais do filme, que após nos apresentar o conjunto de atores e técnicos envolvidos em sua realização, antecede o começo da narrativa com uma cartela institucional. Nela, os produtores agradecem a instituições (à polícia, às forças armadas, à prefeitura, aos hospitais) pela colaboração dada ao filme e afirmam que por intermédio desta foi possível concretizar uma obra profundamente “realista e brilhante”.
Percebemos aí, logo de cara, a utilização estratégica do adjetivo “realista” como indicador de um critério de qualidade e renovação. A indústria cinematográfica egípcia (a única do mundo árabe, apta por sua produtividade, a receber essa classificação) adquiriu significativa força a partir da década de 30 através do papel exercido por estúdios mantidos pela iniciativa privada, como é o caso dos estúdios MISR. Essa produção é considerada pela maioria dos historiadores/pesquisadores que se debruçaram no estudo da cinematografia árabe como absolutamente mimética à Hollywood. Os poderosos magnatas, empresários e industriais egípcios, ávidos pela diversificação de seus negócios, ao elegerem a atividade cinematográfica teriam enxergado na repetição das velhas fórmulas a chave para o lucro fácil e garantido. Tal visão do cinema egípcio pré-1952 como exclusivamente escapista, comercial ao extremo, pouco “artístico” e afastado da realidade social do país, foi reforçada quando em 1947 foi promulgado um rígido código de censura (claramente inspirado no modelo norte-americano) que vetava, sem pudor, a representação das classes populares. A periferia e os bairros pobres não deveriam existir como cenários, os camponeses e o crescente proletariado urbano eram personagens do mundo “real” que não poderiam de maneira nenhuma penetrar no Mundo do Cinema. Realidade e Cinema eram elementos conscientemente trabalhados como esferas opostas, logo o diálogo entre elas estava impossibilitado.
Houveram exemplares isolados de um cinema com fortes inspirações “realistas”: Al-azima/ A Determinação (Kamal Selim, 1939) e As-suq alasuad/O Mercado Negro (Kamal al-Telemsani, 1945), porém essa tendência, consideravelmente ampliada pela difusão dos principais filmes neo-realistas italianos, só ganharia maior relevo após a revolução encabeçada por Gamel Abdel Nasser em 1952. Os principais nomes da etapa “realista” desse renovado cinema egípcio seriam Yussef Chahine, Salah Abu Seyf e Tawfiq Salah. Porém, mesmo esses três diretores que, com a exceção de Tawquif Salah, já tinham realizado filmes nos anos 40, teriam que injetar o desejado realismo com uma certa dose de parcimônia. O aspecto realista desses filmes pós-revolução nasserista acabavam sendo diluídos em um caldo melodramático predominante. O melodrama como gênero de imbatível apelo popular e o uso de um sólido star system (encabeçado sobretudo pelo par romântico Omar Sharif/ Faten Hamana) permaneciam como as principais ferramentas utilizadas para se chegar ao grande público. Portanto, esse frágil realismo se ancorava muitas vezes apenas na solução fotográfica de se usar luz natural, mesclada com o olhar voltado para os ambientes/personagens populares. A narrativa, a dramaturgia, os diálogos e as soluções de mise-en- scène ainda eram bastante devedoras do cinema clássico. O realismo seria então aqui efetivado como um adorno, mais como um floreio diferenciador e menos como uma essência diferencial, manuseada acima de tudo para separar e delimitar, um pretenso novo cinema que estaria por vir, daquele velho cinema que já foi.
Essa dicotomia estabelecida entre um “velho cinema” versus um “novo cinema” é onipresente em Um Estranho em Minha Casa. O que esse filme teria de “clássico” e o que ele emanaria de “novo”? Em uma primeira aproximação percebemos que ele opera tímidas tentativas inovadoras (sobretudo no contexto egípcio) estando mergulhado até o pescoço em uma estrutura clássica. O que o sustenta e o que o mantêm de pé é a narrativa clássica, ela é o seu ar, é ela que oxigena o seu cérebro. Porém, simultaneamente a essa constatação, sentimos que há ali, algumas vezes escondido e em outras não, um desejo de inovação. No meio daquelas fortes e constantes tinturas morais, utilizadas de maneira extremamente didáticas – a defesa incondicional da família como instituição sagrada e da educação como o bem maior a ser cultivado pelo Homem – notamos um incubado movimento de ir além. Porém, esse ir além, se chega a existir como um anseio, acaba sendo seguidamente freado pelo todo que o engole.
Ibrahim Hamdy (Omar Sharif) é um herói clássico até o último fio de cabelo. Em sua sólida e metálica fortaleza moral não há aberturas para ambigüidades, dúvidas existenciais ou conflitos psicológicos. O seu ideal é reto e direcionado para um ponto minuciosamente focalizado. A sua motivação e a razão de sua existência é uma só: salvar o Mundo e, por conseguinte, carregar todas as suas injustiças nas costas. Cabe a ele ser o responsável pelas dores do Mundo e aqui Mundo é lido como país, logo a libertação do Egito e a aniquilação das forças imperialistas britânicas estão exclusivamente em suas mãos. Newal, a jovem que por ele se apaixona, vê na imagem de seu amado a luz e a força indestrutível de um verdadeiro Deus. Força que será capaz de remover e ultrapassar todos os obstáculos para promover o bem. Quando o seu irmão Mohel e o primo Abdel Hamid foram presos, ela realmente acreditava que no exato momento em que Ibrahim se interasse do fato, ele os libertaria em uma fração de segundo. De fato, se lembrarmos da extrema facilidade com que o protagonista entra no palácio de governo, mata o 1º Ministro e foge da prisão dias depois, tendemos a concordar com Newal a respeito da invulnerabilidade de nosso herói. Tamanho aspecto invencível é explicado pela força de seus objetivos. Quando Abdel Hamid pergunta com evidente perplexidade sobre a razão que o levou a assassinar o governante, sacrificando assim o seu futuro, Ibrahim responde: “Fé, se tiver fé em seus princípios, jamais terá dúvidas”.
Em um outro momento, o personagem afirma: “servir o meu país não foi uma questão pessoal”. Esse impetuoso sentimento de doação, de se sacrificar pela coletividade ou pela entidade que ele compreende como “povo”, está intimamente entrelaçado com a atmosfera religiosa/messiânica onipresente no transcurso da narrativa. Fé e nacionalismo são aqui substâncias indissociáveis. Ser patriota é tão natural quanto acreditar em Deus. Ser patriota transcende o fato de ser ou não politizado. Quando a “sagrada família” se encontrava no dilema entre dar ou negar abrigo a Ibrahim, a apolítica Newal diz que sendo egípcios eles teriam a obrigação de acolhê-lo. A igualmente alienada Samia, afirma que “até mesmo um ateu” teria dado abrigo ao fugitivo. Convencido por esse argumento, de que é necessário socorrer o próximo quando este se encontra em apuros, o Pai volta atrás e o recebe em seu lar. O pai alega que seu ato não o faz se envolver com política e que o mesmo se funda unicamente no sentimento religioso de ajudar o seu semelhante. Porém, todos sabiam que Ibrahim não era um assassino comum e tinham a ciência do que o levou a matar. O grande temor pela política sentido e difundido pelo patriarca se baseia na possibilidade que ela apresenta em levar seus entes queridos para caminhos perigosos. O Pai aconselha Mohel a se dedicar exclusivamente em seus estudos e a nunca se envolver com os “amigos de Ibrahim”. A política e os indivíduos que estavam próximos dela eram sem dúvida más companhias. O discurso de que é importante ser fiel à pátria e de que a política é um negócio arriscado e para poucos, mais do que emanar das ações/falas dos personagens, acaba adquirindo maior relevância através do uso das tais estratégicas clássicas priorizadas pelo filme. Ao fazer uso do herói idealizado, Um Estranho em Minha Casa corrobora a idéia de que a sua atitude revolucionária é uma exceção e não uma regra. Aqueles manifestantes que aparecem no inicio da narrativa formam uma massa e um todo homogêneo. Não existem outros Ibrahims no meio daquela multidão que se rebela. Aquela massa não é composta por vários Ibrahims, e sim por indivíduos cujos rostos são apagados para que possamos enxergar com extrema nitidez apenas o rosto do nosso grande herói. Até mesmo os outros líderes estudantis, companheiros próximos do protagonista, não possuem a sua inabalável integridade ética. Um deles chega a sonegar informação para que o líder possa se exilar na França.
Em várias falas o protagonista diz que a família que o acolheu não tem “culpa”, porque não se envolve com política. A política é realmente algo para poucos abnegados que lutam e se interessam pelo bem-estar do povo. Este deve se preocupar apenas com os seus estudos, com o seu trabalho e com a sua vida cotidiana, deixando que esses poucos o conduzam. A determinação e o caráter de Ibrahim é vista pelo espectador como algo louvável, mas, também, sobrenatural. Ao mesmo tempo em que queremos ser como ele, devido ao processo de identificação que se consolidou, consideramos que alguém como ele “é coisa de cinema”, afirmação que comprova que, apesar do uso de um pretenso “realismo”, o que sobressai é o espetáculo clássico e as convenções de representação.
Percebemos aí, logo de cara, a utilização estratégica do adjetivo “realista” como indicador de um critério de qualidade e renovação. A indústria cinematográfica egípcia (a única do mundo árabe, apta por sua produtividade, a receber essa classificação) adquiriu significativa força a partir da década de 30 através do papel exercido por estúdios mantidos pela iniciativa privada, como é o caso dos estúdios MISR. Essa produção é considerada pela maioria dos historiadores/pesquisadores que se debruçaram no estudo da cinematografia árabe como absolutamente mimética à Hollywood. Os poderosos magnatas, empresários e industriais egípcios, ávidos pela diversificação de seus negócios, ao elegerem a atividade cinematográfica teriam enxergado na repetição das velhas fórmulas a chave para o lucro fácil e garantido. Tal visão do cinema egípcio pré-1952 como exclusivamente escapista, comercial ao extremo, pouco “artístico” e afastado da realidade social do país, foi reforçada quando em 1947 foi promulgado um rígido código de censura (claramente inspirado no modelo norte-americano) que vetava, sem pudor, a representação das classes populares. A periferia e os bairros pobres não deveriam existir como cenários, os camponeses e o crescente proletariado urbano eram personagens do mundo “real” que não poderiam de maneira nenhuma penetrar no Mundo do Cinema. Realidade e Cinema eram elementos conscientemente trabalhados como esferas opostas, logo o diálogo entre elas estava impossibilitado.
Houveram exemplares isolados de um cinema com fortes inspirações “realistas”: Al-azima/ A Determinação (Kamal Selim, 1939) e As-suq alasuad/O Mercado Negro (Kamal al-Telemsani, 1945), porém essa tendência, consideravelmente ampliada pela difusão dos principais filmes neo-realistas italianos, só ganharia maior relevo após a revolução encabeçada por Gamel Abdel Nasser em 1952. Os principais nomes da etapa “realista” desse renovado cinema egípcio seriam Yussef Chahine, Salah Abu Seyf e Tawfiq Salah. Porém, mesmo esses três diretores que, com a exceção de Tawquif Salah, já tinham realizado filmes nos anos 40, teriam que injetar o desejado realismo com uma certa dose de parcimônia. O aspecto realista desses filmes pós-revolução nasserista acabavam sendo diluídos em um caldo melodramático predominante. O melodrama como gênero de imbatível apelo popular e o uso de um sólido star system (encabeçado sobretudo pelo par romântico Omar Sharif/ Faten Hamana) permaneciam como as principais ferramentas utilizadas para se chegar ao grande público. Portanto, esse frágil realismo se ancorava muitas vezes apenas na solução fotográfica de se usar luz natural, mesclada com o olhar voltado para os ambientes/personagens populares. A narrativa, a dramaturgia, os diálogos e as soluções de mise-en- scène ainda eram bastante devedoras do cinema clássico. O realismo seria então aqui efetivado como um adorno, mais como um floreio diferenciador e menos como uma essência diferencial, manuseada acima de tudo para separar e delimitar, um pretenso novo cinema que estaria por vir, daquele velho cinema que já foi.
Essa dicotomia estabelecida entre um “velho cinema” versus um “novo cinema” é onipresente em Um Estranho em Minha Casa. O que esse filme teria de “clássico” e o que ele emanaria de “novo”? Em uma primeira aproximação percebemos que ele opera tímidas tentativas inovadoras (sobretudo no contexto egípcio) estando mergulhado até o pescoço em uma estrutura clássica. O que o sustenta e o que o mantêm de pé é a narrativa clássica, ela é o seu ar, é ela que oxigena o seu cérebro. Porém, simultaneamente a essa constatação, sentimos que há ali, algumas vezes escondido e em outras não, um desejo de inovação. No meio daquelas fortes e constantes tinturas morais, utilizadas de maneira extremamente didáticas – a defesa incondicional da família como instituição sagrada e da educação como o bem maior a ser cultivado pelo Homem – notamos um incubado movimento de ir além. Porém, esse ir além, se chega a existir como um anseio, acaba sendo seguidamente freado pelo todo que o engole.
Ibrahim Hamdy (Omar Sharif) é um herói clássico até o último fio de cabelo. Em sua sólida e metálica fortaleza moral não há aberturas para ambigüidades, dúvidas existenciais ou conflitos psicológicos. O seu ideal é reto e direcionado para um ponto minuciosamente focalizado. A sua motivação e a razão de sua existência é uma só: salvar o Mundo e, por conseguinte, carregar todas as suas injustiças nas costas. Cabe a ele ser o responsável pelas dores do Mundo e aqui Mundo é lido como país, logo a libertação do Egito e a aniquilação das forças imperialistas britânicas estão exclusivamente em suas mãos. Newal, a jovem que por ele se apaixona, vê na imagem de seu amado a luz e a força indestrutível de um verdadeiro Deus. Força que será capaz de remover e ultrapassar todos os obstáculos para promover o bem. Quando o seu irmão Mohel e o primo Abdel Hamid foram presos, ela realmente acreditava que no exato momento em que Ibrahim se interasse do fato, ele os libertaria em uma fração de segundo. De fato, se lembrarmos da extrema facilidade com que o protagonista entra no palácio de governo, mata o 1º Ministro e foge da prisão dias depois, tendemos a concordar com Newal a respeito da invulnerabilidade de nosso herói. Tamanho aspecto invencível é explicado pela força de seus objetivos. Quando Abdel Hamid pergunta com evidente perplexidade sobre a razão que o levou a assassinar o governante, sacrificando assim o seu futuro, Ibrahim responde: “Fé, se tiver fé em seus princípios, jamais terá dúvidas”.
Em um outro momento, o personagem afirma: “servir o meu país não foi uma questão pessoal”. Esse impetuoso sentimento de doação, de se sacrificar pela coletividade ou pela entidade que ele compreende como “povo”, está intimamente entrelaçado com a atmosfera religiosa/messiânica onipresente no transcurso da narrativa. Fé e nacionalismo são aqui substâncias indissociáveis. Ser patriota é tão natural quanto acreditar em Deus. Ser patriota transcende o fato de ser ou não politizado. Quando a “sagrada família” se encontrava no dilema entre dar ou negar abrigo a Ibrahim, a apolítica Newal diz que sendo egípcios eles teriam a obrigação de acolhê-lo. A igualmente alienada Samia, afirma que “até mesmo um ateu” teria dado abrigo ao fugitivo. Convencido por esse argumento, de que é necessário socorrer o próximo quando este se encontra em apuros, o Pai volta atrás e o recebe em seu lar. O pai alega que seu ato não o faz se envolver com política e que o mesmo se funda unicamente no sentimento religioso de ajudar o seu semelhante. Porém, todos sabiam que Ibrahim não era um assassino comum e tinham a ciência do que o levou a matar. O grande temor pela política sentido e difundido pelo patriarca se baseia na possibilidade que ela apresenta em levar seus entes queridos para caminhos perigosos. O Pai aconselha Mohel a se dedicar exclusivamente em seus estudos e a nunca se envolver com os “amigos de Ibrahim”. A política e os indivíduos que estavam próximos dela eram sem dúvida más companhias. O discurso de que é importante ser fiel à pátria e de que a política é um negócio arriscado e para poucos, mais do que emanar das ações/falas dos personagens, acaba adquirindo maior relevância através do uso das tais estratégicas clássicas priorizadas pelo filme. Ao fazer uso do herói idealizado, Um Estranho em Minha Casa corrobora a idéia de que a sua atitude revolucionária é uma exceção e não uma regra. Aqueles manifestantes que aparecem no inicio da narrativa formam uma massa e um todo homogêneo. Não existem outros Ibrahims no meio daquela multidão que se rebela. Aquela massa não é composta por vários Ibrahims, e sim por indivíduos cujos rostos são apagados para que possamos enxergar com extrema nitidez apenas o rosto do nosso grande herói. Até mesmo os outros líderes estudantis, companheiros próximos do protagonista, não possuem a sua inabalável integridade ética. Um deles chega a sonegar informação para que o líder possa se exilar na França.
Em várias falas o protagonista diz que a família que o acolheu não tem “culpa”, porque não se envolve com política. A política é realmente algo para poucos abnegados que lutam e se interessam pelo bem-estar do povo. Este deve se preocupar apenas com os seus estudos, com o seu trabalho e com a sua vida cotidiana, deixando que esses poucos o conduzam. A determinação e o caráter de Ibrahim é vista pelo espectador como algo louvável, mas, também, sobrenatural. Ao mesmo tempo em que queremos ser como ele, devido ao processo de identificação que se consolidou, consideramos que alguém como ele “é coisa de cinema”, afirmação que comprova que, apesar do uso de um pretenso “realismo”, o que sobressai é o espetáculo clássico e as convenções de representação.
Estevão Garcia
Fonte: http://www.contracam...emminhacasa.htm
Por favor, semeie! Semear é muito importante para que outras pessoas tenham acesso ao filme.
Créditos da postagem a mfcorrea, no MakingOff.